
Quando hoje de manhã me avistou, sentado na borda do passeio, não esperava que a minha Senhorinha reparasse neste seu fiel chevalier servant, quanto mais que me reconhecesse e, despida de vaidades, se viesse sentar no chão, a meu lado.
A minha comoção foi tal que ainda gaguejo, aqui diante destas teclas.
Não foi culpa minha se deixámos de nos ver.
E menos ainda que a narrativa dos extrordinárias ocorrências do Canil Municipal, SA, tivesse de ser suspensa.
Eu sei que passaram dias e dias, semanas, meses sem dar notícias e que a minha Senhorinha me procurou em vão.
Mas, o inimaginável aconteceu: estou curado. Eu.
Deram-me um papel carimbado, uma mão cheia de receitas para aviar numa farmácia qualquer e pronto: apontaram-me o caminho da porta.
Não que eu, ao fim de quinze anos de internato, não o soubesse. Mas, que havia de fazer?
Fingi-me atarantado, deambulei pelo átrio, com o saco a arrastar atrás de mim e á hora do almoço aproveitei a distracção dos seguranças que estavam a preencher o euro-milhões e esgueirei-me para o refeitório.
A chefe é Dona Carolina, uma gorducha de rabo empinado que anda a atirar os pés para fora e por isso, a gente chama-lhe a Pinguína. Deixou-me comer a sopa, a ela, se calhar tanto fazia, mas a Segurança mais o Médico de turno e a Assistente Social, chegaram todos ainda antes da massa guisada.
Que eu tinha família, que tinham sido avisados, dizia um, que vinham aí buscar-me acrescentava outro. E perguntaram-me se eu tinha dinheiro e onde estavam os meus documentos.
Família? Dinheiro? Documentos?
E os doentes mentais somos nós?
A Assistente, a abanar a cabeça para o Médico, como se a culpa fosse minha, escreveu imensa coisa num impresso que eu tive de assinar. A título de «põe-t'àndar-e-não-arranjes-mais-chatices» deu-me dez euros emprestados que eu teria de devolver no prazo de oito dias úteis.
Os seguranças, irritados por terem sido fintados por mais um débil mental e por me verem a sacar uns trocos, ainda por cima, acartaram comigo para a rua e ficaram a ver se eu não dava a volta e entrava de novo. Eu, bem que tentei. Mas não há nada mais cruel do que uma instituição quando tem de apertar os cordões à bolsa.
Que havia eu de fazer?
Fui tomar um café com dois pacotes de açúcar porque ainda estava a sentir fome.
A partir de agora ia ser assim.
Mas, pronto, não quis apoquentar a minha Senhorinha com as misérias deste mundo, nem quero agora incomodar as Gentis Damas e os Cavaleiros que ainda se derem ao trabalho de me ler.
Claro que, uma vez a viver na rua, com o resto de dez euros no bolso, não foi pêra doce aceder à internet. Quando se dorme nas portadas, em vãos de escada, embrulhado em jornais, sujeito, manhã atrás de manhã, a ser expulso pelo primeiro condómino que deixa o quentinho do lar, a caridade bem ordenada começa com o pequeno almoço se a tanto a sorte ajudar. Remédios, meias lavadas e acesso aos bens culturais, tudo se vai paulatinamente tornando num secundaríssimo luxo.
Basta, porém, de desculpas.
Não vim incomodar a Minha Senhorinha para me queixar e muito menos para pedinchar fosse o que fosse.
Lembra-se de que o Deus-dos-Cães (aka, ou melhor, aliás, como dizemos nós, Anúbis, aliás, o Deus-Chacal) tinha abandonado a Magrizela, o Carlinhos e o Zé Nesgas no meio da rua. Um salto prodigioso dos que só ele sabia dar levou-o ao telhado da Junta de Freguesia, onde um ruído de telhas partidas anunciou uma aterragem acidentada.
-Fosga-se, man! - exclamou o Zé Nesgas de boca aberta. - Aquilo era o Wolverine, ou era o quê?
Ninguém lhe respondeu. A Magrizela, agarrara de novo no blusão do Carlinhos e saracoteava-se com ele sem conseguir enfiar as mãos pelas mangas. Tinha já tentado enfiar um pé no bolso, mas verificara que não estava a ser muito bem sucedida. E o proprietário do dito blusão, além de tactear devagarinho a cara num sítio que enegrecia rápidamente, apercebera-se, se calhar pela primeira vez, da camisa de onze varas em que estava metido.
Levar para casa uma cadela, mesmo velha e sarnenta, era uma coisa.
Outra bem diferente era aparecer com uma chavala desavergonhadamente nua, que se agachava para fazer os necessários na borda do passeio e que insistia em lamber o focinho... perdão: o nariz dos seus novos amigos.
«Mas bem», pensou ele, «o que tem de ser tem muita força!»
Pelo menos, era o que dizia o Pai quando não acontecia nada do que ele esperava.
E lá convenceu a Magrizela a seguí-lo - para o que, diga-se, teve de puxar a corda com alguma insistência. Houvesse uma alternativa, nem que fosse fugir para o Nepal, e o seu Primo nem hesitaria. Mas o Zé Nesgas, consultado, não apresentou sugestões: hipnotizado pelo corpinho da Magrizela, estava mesmo sem préstimo nenhum.
A nossa casa, quando não se consegue pensar em mais nada e por pequenina que seja, mero tugúrio no em prédio degradado ou barraca de zinco na encosta do monte, é o nosso castelo apalaçado, a fortaleza de cujas muralhas resistimos a castelhanos e americanos, governantes e banqueiros e aos grande da Alfredo Arroja.
«É», diria a Stoura Laura, se por acaso andasse por alí, «o próprio devir histórico», fosse o que fosse que isso quisesse dizer.
Mesmo não sendo longe, o acesso ao lar não se realizou sem algumas dificuldades. A Mãe do Carlinhos e distinta Tia da minha Senhorinha, só para dar um exemplo, começou logo a ralhar:
- De onde é que o menino vem a uma hora destas? E olhe-me para essas calças! Onde é que as estragou dessa maneira, diga lá! Andou à briga outra vez lá na escola, já estou a ver! Já tirar essa roupa e tomar um banho!
O ar feroz da sua Tia era o menos. O Carlinhos estava habituado e se a Mãe julgava que as palmadas lhe faziam mossa, ora bem, desde que o Zé Nesgas conseguisse fazer entrar a Magrizela pelas trazeiras até ao quarto! O Carlinhos achou por bem fazer uma gritaria à laia de manobra de diversão:
- Aiai, Mãezinha, não me bata, aiai! - e marchou para a casa de banho seguido da Senhora sua Tia.
O seu Tio, esse, regressado do bar onde a doce Svetlhana lhe ouvira as queixas e os projectos e lhe ia renovando as taças do suave «Guy Fawlkes blue» a doze euros cada uma, começava a sentir um par de dores fininhas, de cabeça uma, de remorso, a outra.
Não poude por isso impedir-se de berrar como um paquiderme em trabalho de parto: «Gaita que não há sossego nesta casa!»; «Deixa lá o rapaz, irra! Já tem idade para se desenrascar sozinho!»; «Se não tiver, não tem, canudo! E o jantar, onde é que está? Não se janta hoje, está-se a ver!»
A sua Tia, lá do fundo e ainda a empurrar o seu Primo Carlinhos, retorquiu que, «se queria intervir na educação do seu filho, tivesse vindo a horas. E que, quem tarde viesse, comesse do que trouxesse, nunca tinha ouvido?»
O Carlinhos, um pouco mais animado porque a trovoada lhe passava por cima da cabeça e ia chover noutras planícies, entrou rápido para o duche enquanto o tom da troca de ideias entre os progenitores subia vários decibéis. A Mãe, de um lado, clamava por respeito. O Pai, do outro, também. E o Carlinhos, embrulhado no toalhão, aproveitou para se esgueirar para o quarto.
A Magrizela, tapada com o edredon no meio do tapete enrodilhado, dormia com um ar pacifíco enquanto o Zé Nesgas, agarrado ao teclado do computador, dava tiros aos extra-terrestres azuis que surgiam aos cantos do monitor.
- Man - disse ele sem desviar os olhos de um monstro castanho que emergia de uma bilha. - Essa garina é esquisita com'á porra! Mal entrou, começou às voltas no tapete e ferrou-se a dormir.
Interrompeu-se para disparar uma saraivada de balas contra o inimigo que se desfez em geleia.
- Assim em pelota e tudo. - continuou ele depois de gritar «g'anda tiro, viste?» - Tive de a tapar, com o teu edredon. Ond'é que tu arranjaste este embrulho? A minha irmã também não é grande coisa, mas esta bate-a aos pontos todos os dias da semana!
O seu Primo ofendeu-se e agarrou-o por um braço:
- Como é que tu sabes? - contrpôs ele. - Só hoje é que a viste!
- Eu sou ceguinho, não?... - interrompeu-se com um sobressalto e um berro: - Porra, man! Perdi por tua culpa!
O Game Over aparecia de facto no monitor que piscava triunfante. Os uofâres enchiam o quarto de acordes fúnebres.
De cenho franzido, o Zé Nesgas libertou-se da mão do Carlinhos.
- E quando é que ela se veste? - perguntou ele; e acrescentou escusadamente: - Não pode andar assim.
- Julgas que eu não sei? Mas onde é que eu vou arranjar-lhe roupa? E quem é que lhe ensina... hum... haaa... man, a gente tem de ter cuecas, tás a ver! E tem de as baixar, tás a ver, quando for á casa de banho e isso.
E, perante o esgar céptico do Zé Nesgas, o seu Primo lançou as mãos à cabeça:
- Fosga-se! Não tinha pensado nisso! O papel higiénico! A gaja não sabe usar o papel higiénico!
- És tótó ou tás a disfarçar? Com aquela idade e não havia de saber tudo isso e mais que tu?
- Não, não sabe. Ou achas que os cães precisam de saber essas coisas?
- Cães? Quais cães, meu? Os gajos da Arroja amachucaram-te os miolos! De certeza.
O Carlinhos esbravejou:
- Cães, sim, cães. Não vês a coleira dela? E não viste o salto do Deus-dos-Cães que partiu o telhado todo?
Sabe Deus, Gentil Senhorinha, onde teria levado a discussão se a sua Tia não tivesse batido à porta e chamado:
- Carlinhos! Já se vestiu? Convide o seu amigo e venha comer que já passa da hora. E não demore. Já hoje me fez perder a paciência!
Refiro-me, claro, ao nosso Deus. O tal Anúbis, esse desaparecera como se a sua missão na vida estivesse cumprida.
Mas, a razão pela qual eu a vim procurar, Gentil Senhorinha, terá de ficar para outro dia.
São quase horas de chegar a casa, vinda do seu trabalho, e eu não quero que sinta outra vez essa piedade funda que leio nos seus olhos.
Levo-lhe aquele pão pequeno, se me perdoa mais este abuso. Às vezes, à noite, quando o frio aperta, é bom ter uma côdea para ir rilhando.
Bem haja.
 A segunda é a da balança.
A segunda é a da balança. Este blog chama-se Portugal, Caramba! por uma razão simples. Quem leu A ilustre casa de Ramires há-de lembrar-se da simpática figura do «Castanheiro Patriotinheiro» que, ainda estudante em Coímbra, "fundara um semanário, a Pátria - com o alevantado intento", diz Eça de Queiroz, "de despertar [...] em todo o País, do cabo Sileiro ao cabo de Santa Maria, o amor tão arrefecido das belezas, das grandezas e das glórias de Portugal!»
Este blog chama-se Portugal, Caramba! por uma razão simples. Quem leu A ilustre casa de Ramires há-de lembrar-se da simpática figura do «Castanheiro Patriotinheiro» que, ainda estudante em Coímbra, "fundara um semanário, a Pátria - com o alevantado intento", diz Eça de Queiroz, "de despertar [...] em todo o País, do cabo Sileiro ao cabo de Santa Maria, o amor tão arrefecido das belezas, das grandezas e das glórias de Portugal!»

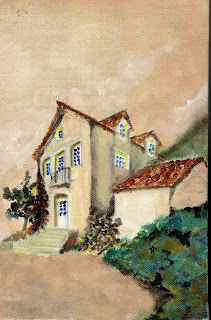 A Gi, autora do Pequenos Nadas (que figura aqui à direita como Enormes Tudos) voltou a distinguir o Portugal, Caramba. Como agradecer-lhe? É uma questão a suscitar um estudo aprofundado. No entretanto, vamos ter de inventar também uma lista de
A Gi, autora do Pequenos Nadas (que figura aqui à direita como Enormes Tudos) voltou a distinguir o Portugal, Caramba. Como agradecer-lhe? É uma questão a suscitar um estudo aprofundado. No entretanto, vamos ter de inventar também uma lista de Durante muitos anos não pensei em Deus.
Durante muitos anos não pensei em Deus.
